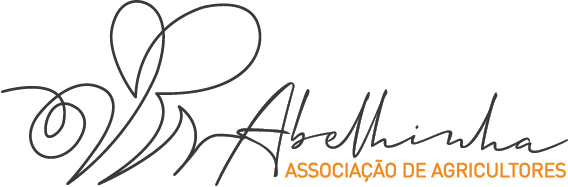O café
Visitámos alguns agricultores, a norte e a sul, para conhecer a sua experiência, motivações, técnicas de descasque e torragem, bem como as suas opiniões sobre o futuro do café na Ilha da Madeira. Há registos de que o café é plantado na Ilha da Madeira desde o século XVIII. Actualmente, o café ganha mais interesse entre os madeirenses, seja para consumo familiar ou para comercialização.
«Há cerca de 25 anos [o cafeeiro] ainda era frequente na região baixa do sul da ilha. O café madeirense era de excelente qualidade e rivalizava com o de Moca.»
---Elucidário Madeirense (Vol. I, 1.ª edição de 1921)
«O café dá-se muito bem na Madeira. Um homem com uma família assegurou-me que apenas uma árvore produzia café suficiente para o seu consumo caseiro durante todo o ano. Em sabor não é fácil distinguir do café importado, embora não parecesse ter a mesma força e era um pouco amargo, talvez consequência de ter sido apanhado da árvore um pouco prematuramente.»
---Jens Rathke, botanista e zoólogo norueguês (diário da viagem à Madeira, no final do século XVIII: 1798-1799)
«A sua formosa flor branca, parecida à do jasmim, liberta um aroma muito delicado, embora ténue, comparável ao da flor da laranjeira, e cresce em pequenos aglomerados nas axilas das folhas»; «os grãos de café na Madeira são pequenos e parecidos aos de moca [planta coffea arabica], de onde procederam, segundo afirmam os portugueses»; «a totalidade do café colhido é consumido na ilha, onde custa um pouco mais do que o café importado, porque é considerado, com razão, melhor»; «na Madeira o café cresce só na vertente sul e acima dos 600 pés em relação ao nível do mar; em redor do Funchal há muitas pequenas plantações, mas nenhuma grande.»
---Hermann Schacht, botanista e farmacêutico alemão (“Madeira und Tenerife mit ibrer Vegetation”, capítulo “O café (coffea arabica) na Madeira”: 1859)
Agricultores madeirenses entrevistados e respetiva localidade (pela ordem no vídeo): Dalila Cunha, São Jorge; José Branco, São Jorge; Maria Veríssimo, Machico; Pedro Silva, Estreito da Calheta; Rui Sousa, Estreito da Calheta; Carlos Magro, Arco da Calheta; Jorge Cipriano, Funchal.
...
Agradecimento a todos os participantes e envolvidos na produção do vídeo O Café.
Ver o vídeo nos vídeos da Abelhinha ou directamente no Youtube
Sidra das Costas de Baixo - Ilha da Madeira
As macieiras encontraram boas condições na Ilha da Madeira. O «vinho de pêros» fazia parte dos mantimentos que os navegadores portugueses vinham buscar à ilha no século XV. A produção artesanal e o consumo de sidra mantiveram-se circunscritas, até há alguns anos, às localidades das zonas mais propícias ao desenvolvimento de pomares de macieiras.
Nas últimas décadas, criou-se tradição de fabrico de sidra na zona Oeste fruto do trabalho do projecto Quinta Pedagógica dos Prazeres, sob a liderança do Padre Rui Sousa, para o aproveitamento da maçã e para a defesa do património genético vegetal. Da parceria entre a Paróquia dos Prazeres e a Secretaria Regional da Agricultura resultou o apoio técnico da Engenheira Regina Pereira. Foi alcançado o melhoramento do produto e a primeira sidra engarrafada licenciada do país teve o selo da Quinta Pedagógica dos Prazeres.
A organização do sector iniciou-se com a criação da Associação de Produtores de Sidra, em 2016. Numa conferência realizada na freguesia dos Prazeres pela Engenheira Ana Soeiro, diretora da QUALIFICA Portugal, surge a ideia de alcançar a Indicação Geográfica Protegida. A sidra ganhou maior visibilidade, cativou novos consumidores e adquiriu uma crescente qualidade, como atestam os prémios nacionais e estrangeiros. Entretanto, o Governo Regional regulamentou o sector da sidra e criou a rede de sidrarias.
Após a colheita em diversas localidades da ilha, faz-se a seleção e lavagem dos frutos. Seguidamente, as maçãs são cortadas e retalhadas através de processos de trituração mecânica, para a máxima extração do sumo.
A fermentação do sumo decorre, geralmente, com os compostos naturais e as condições provenientes dos frutos e com os microrganismos do mosto e dos recipientes de fermentação. Contudo, podem ser utilizados auxiliares tecnológicos e realizadas práticas e tratamentos enológicos aprovados para a obtenção de sidra natural.
Fruto da experiência de várias gerações, os produtores sabem quanto tempo após a “fervura do mosto” deixam repousar a sidra para a sua estabilização. A sidra está pronta após esse repouso, podendo ser trasfegada para pipas de madeira, onde decorre o estágio, ou para reservatórios mais inertes como tanques de inox ou outros onde é conservada até o seu engarrafamento. Após ser engarrafada, procede-se à rotulagem.
De forma a selar a garrafa pode-se fazer a lacragem, e, assim, assegurar a longevidade do conteúdo à semelhança do que acontece com o vinho. Depois de as garrafas serem embaladas em caixas, são armazenadas e seguem para os estabelecimentos de venda a retalho, de forma a chegar ao consumidor final.
O grau da Sidra da Madeira varia entre os cinco e os sete por cento de volume de álcool e a sua cor vai do amarelo citrino ao amarelo palha, com nuances alaranjadas. Já no aroma, com um caráter frutado de média a forte intensidade, revela notas citrinas ou de maçã verde a notas mais maduras, que lembram o marmelo. Com baixo açúcar residual, derivado de fermentações quase completas, o seu paladar tem boa acidez, com algum tanino à mistura, dependendo da variedade de maçãs utilizada. O solo da ilha, sobretudo vulcânico, é rico em matéria orgânica e de elevada acidez. As fermentações a baixas temperaturas ajudam a manter aromas e sabores, que variam conforme o seu envelhecimento em garrafa ou barricas.
Além da sidra natural, esta bebida tem outras possibilidades de utilização como a adição de sabores com frutos naturais da Ilha, em que a Sidra Rosa, a Sidra Tangerina ou a Sidra Pitanga são exemplos, e como substituto do vinho ou da cerveja em cocktails como a Nikita ou a Sangria. A marca aRRebITa tem um concentrado de Sidra Quente, que deve ser harmonizado com sidra natural, uma bebida para ser consumida nos dias mais frios, com um pauzinho de canela, casca de limão e funcho, como é tradição em algumas localidades da Madeira.
...
Agradecimento à Sidraria dos Prazeres e toda a equipa
Ver o vídeo nos vídeos da Abelhinha ou directamente no Youtube
Flor de bananeira
A flor de bananeira é um produto que reúne dois propósitos: inovar e fazer o aproveitamento de matéria prima existente em abundância na Ilha da Madeira.
Esta é a região do país em que a bananeira é cultivada em escala comercial, onde existem bananais de grandes dimensões. Estima-se que a introdução da cultura data de meados do século dezasseis, com maior incremento apenas na segunda metade do século dezanove, altura em que a Ilha se tornou o primeiro centro exportador de banana para a Europa, mas a produção só ganhou importância decisiva na economia da Madeira no século vinte. O Museu da Banana da Madeira – BAM apresenta informação detalhada sobre a cultura da banana na Ilha de um modo atrativo e disponibiliza visitas guiadas.
Como exigem muito calor e humidade, os bananais situam-se na costa mais quente, virada a sul, sobretudo a cotas mais baixas, até aos duzentos e cinquenta metros de altitude, embora as alterações climáticas permitam hoje as bananeiras subirem até aos quatrocentos e cinquenta metros. Os bananais exigem ainda boa irrigação.
Destinada à exportação, a espécie mais cultivada a partir do século dezanove é a bananeira anã (Musa cavendishii), conhecida na Ilha por bananeira de Demerara, uma vez que fora importada desta região do continente americano. Cultiva-se ainda outras variedades, num total de dezassete espécies, como a banana-prata ou a banana-maçã, mas em pequena quantidade.
A bananeira é uma planta herbácea, cuja origem é atribuída ao sudeste asiático, que se multiplica através de rebentos emitidos a partir da base. Depois de originarem folhas, emerge do centro do “caule” da planta um escape ou eixo floral, no qual os primeiros grupos de flores originam o fruto comestível. Os frutos, em bagos alongados, são dispostos em cachos.
Cada bananeira dá um cacho de bananas e este tem um pêndulo, que se forma abaixo do último cacho ou penca de banana ainda verde. Conhecido como coração, botão floral ou flor masculina da bananeira, tem um formato de cone em que as suas folhas, que protegem as flores, apresentam uma coloração roxa-avermelhada. Na Madeira, é conhecido, popularmente, como “pinguilo”, cuja flor pode ser aproveitada para consumo humano.
Para retirar o pinguilo da bananeira aconselha-se a aguardar cerca de quinze dias depois que a última penca de banana se abrir. Para cortá-lo, há quem recomende esperar até haver uma distância média de quinze centímetros entre o pinguilo e a essa última penca de banana. Torcer com a mão pode ser suficiente para quebrar ou então cortar com uma ferramenta apropriada. Diz-se que a sua remoção faz com que o cacho de banana absorva mais nutrientes da bananeira, o que fortalece o crescimento do fruto.
As flores masculinas, que não se desenvolvem em fruto e estão presas na haste do pinguilo, entre as folhas ou brácteas, dispostas em espiga, são utilizadas para fabricar o produto pickles Flor de Bananeira aRRebITa. A flor possui os seguintes componentes, assentes na sua base peduncular: as sépalas do cálice, que são as pequenas folhas situadas na base externa das pétalas, e as pétalas da flor que protegem e ladeiam o estame, o componente interno com o formato de um pequeno bastão, composto pelo estilete e a antera.
No processo de produção, o estame é retirado, por ser duro, bem como é removida a sépola diferenciada, formação morfológica para facilitar a polinização, que contém um néctar para atração dos agentes polinizadores. É um trabalho manual minucioso, repetitivo e demorado. As flores vão sendo colocadas num recipiente com água. No final, vão a cozinhar. Depois de cozida, a flor é embalada em frascos com vinagre de sidra, que são posteriormente rotulados e comercializados.
...
Agradecimento ao Museu da Banana da Madeira – BAM e toda a equipa
Ver o vídeo nos vídeos da Abelhinha ou directamente no Youtube
Cuscuz caseiro do Estreito da Calheta
Num alguidar de madeira de til com cerca de cento e cinquenta anos, uma herança da sua sogra, Olga Francisco Pataca, juntamente com Maria da Graça Duarte e Maria Afonso, iniciam o processo de fabrico do cuscuz, de modo tradicional e caseiro.
O cuscuz, com provável origem árabe, no norte de África, é feito com farinha de trigo amassada à mão, com um pouco de água, até se transformar em pequenos grãos, que são cozidos no vapor do cuscuzeiro. Após o trigo ter sido plantado, ceifado e moído em farinha, começa-se por mexê-la com água, a qual contém um pouco de sal previamente derretido. Não é adicionado fermento.
À medida que é mexida, a farinha é aspergida com água utilizando um ramo de segurelha. É um processo moroso e que exige bons braços. Quando a farinha está enxuta, deitam-se raminhos partidos de segurelha. Continua-se a mexer a farinha, partindo eventuais caroços que se formem, até o cuscuz cantar, isto é, até ouvir-se um som característico ao deitá-lo de alto, com a mãos, no alguidar. É quando o cuscuz se apresenta solto. À medida que é mexido, o preparo ganha uma cor amarelada. Terminada esta fase, é posto algum tempo ao sol, para ajudar a secar.
Entretanto, é preparado o lume de lenha e o cuscuzeiro. A zona entre a panela e o cuscuzeiro é vedado, em redor, por uma cinta em massa de rolão e farinha, que perfazem uma cola resistente, e um pano molhado por cima dessa massa vedante. Para que não saia qualquer vapor. No fundo da panela são colocados cacos em barro, de telha ou outro, e água com a folga de uma mão travessa face ao cuscuzeiro. Os cacos destinam-se a indicar se a água está a findar, um indicativo do fim da cozedura já que aqueles estralam. No fundo perfurado do cuscuzeiro são colocadas vides e depois uma toalha grossa. As vides evitam que a toalha entre em contacto direto com o cuscuzeiro e, assim, evita que o vapor chegue ao cuscuz.
Segue-se a colocação de cinco tubos de cana vieira e uma garrafa vazia no centro ou então cinco tubos. Os tubos deixam sair o calor e permitem cozer o cuscuz no interior. O cuscuzeiro está pronto para receber o cuscuz, que é abafado com toalhas, sendo um delas colocada em redor, ao longo da beira do cuscuzeiro, para receber a borda do alguidar de metal, que é colocado no topo, e absorver a água que transpira durante a cozedura, de modo que não caia para o cuscuz. Este, deitado quando a água já ferve, coze durante duas horas, em lume brando, no vapor libertado pela água na panela que está em contacto direto com o fogo. O vapor excedente sai na borda, entre o topo do cuscuzeiro e o alguidar de metal colocado sobre este.
Depois de cozido, o cuscuz ainda não está pronto. É esfarelado e espalhado sobre uma toalha numa mesa, para não ficar húmido, toalha essa que tem de ser mudada as vezes necessárias para a secagem do cuscuz, que toma uns quatro dias. E tem de ser em tempo de calor, geralmente no Verão. À noite é recolhido para dentro de casa, sobre uma mesa ou mesmo uma cama. Deve ser mexido todos os dias, para ajudar a secar.
...
Agradecimento especial às Sras. Olga Francisco Pataca, Maria Graça Duarte e Maria Afonso, pela ilustração de todo o processo de confecção deste alimento típico.
Ver o vídeo nos vídeos da Abelhinha ou directamente no Youtube
Sopa da Terra
A sopa é património cultural enquanto elemento do receituário tradicional, parte da história e modo de vida de um povo. Ela é característica da cultura gastronómica portuguesa. Fomos à procura da sopa antiga e autêntica, associada a hábitos e memórias, no Estreito da Calheta.
Na sopa de agrião que se apresenta, reuniu-se um conjunto de ingredientes da época, como a batata, o feijão, a abóbora, o inhame das sete plantas, a cenoura, a cebola e o tomate. Colocados na panela com a água a ferver, o agrião é adicionado por último, quando a cozedura está em fase adiantada, sem esquecer um pouco de sal e o azeite no final ou mesmo no prato servido. Em tempos idos, a sopa era cozida a lenha.
A sopa à moda antiga era feita com os ingredientes cortados em pequenos pedaços, até porque dava uma maior saciedade por mais tempo do que a sopa triturada. O elevado teor de água também contribui para que a sopa seja um prato saciante.
Como outros pratos, antigamente era feita com os produtos que a terra dava em cada estação do ano, segundo o ritmo da natureza, frescos e de produção local. Essa pureza atribuía-lhe um maior valor nutricional e de saúde, além de que, em tempos mais antigos, não se usavam pesticidas nem fertilizantes químicos. Os legumes saíam da terra para a panela, sem congelação, processamento ou outra forma artificial de manipulação e conservação. Tudo de forma natural e em harmonia com a natureza. Refira-se ainda que as hortas continham uma variedade de culturas, que, ao contrário da monocultura, também enriquecia, nutricionalmente, os hortícolas.
Apesar do seu forte valor nutricional, a sopa, nas últimas décadas, foi perdendo presença à mesa, face à vida acelerada e à concorrência de outros pratos e alimentos mais apetitosos, condimentados, doces, processados e com aditivos. A presença mais frequente da sopa, um prato de confecção fácil e económica, era associada no passado a meios modestos de sobrevivência, embora seja um prato rico do ponto de vista nutricional e de saúde.
Esta comida contém quantidades significativas de nutrientes, como vitaminas, minerais e fibra, substâncias protectoras do organismo e preventivas de doenças. É ainda uma fonte de hidratação, com a vantagem do fácil consumo, digestão e conservação. Pode ser o prato principal de uma refeição se for enriquecida com alimentos com proteína e alguns cereais. Convém que a sopa seja consumida diariamente, sendo uma boa forma de incluir vegetais na alimentação das crianças.
…
Agradecimento especial à Sra. Ângela Pereira, pela ilustração de todo o processo de confecção deste prato.
Ver o vídeo nos vídeos da Abelhinha ou directamente no Youtube
Inhame no Esreito da Calheta
O inhame é uma planta alimentar cuja parte comestível é o rizoma alongado, tuberculoso e feculento, que é muito apreciada pela população na Região Autónoma da Madeira, neste caso na freguesia do Estreito da Calheta, Concelho da Calheta, onde foram recolhidas as imagens e a informação.
A Semana Santa é a época preferencial em que este prato tradicional é consumido, mais especificamente na Sexta-Feira Santa. O tubérculo cozido é acompanhado de bacalhau, grão-de-bico e molho de salsa. Há quem junte ovos cozidos ou outros elementos ao seu gosto. É habitual também o consumo do inhame frito ou a sua inclusão na sopa. Há quem refira o consumo como sobremesa, com mel-de-cana sacarina, mas trata-se de uma inovação recente.
Os inhames brancos dão-se nos terrenos mais húmidos, os chamados olheiros, pequena vertente com água em abundância ao longo de todo o ano, junto aos ribeiros ou penhascos. Geralmente, são arrancados e replantados em cada ano, nas semanas que antecedem a Páscoa. Antes de cozinhar, raspam-se com uma faca e lavam-se os inhames em água corrente abundante, como uma levada, para evitar comichão nas mãos, por ser uma planta intensa.
Segundo a tradição, o inhame é cozido a lenha numa panela robusta. No fundo da panela, colocam-se vides para o inhame não entrar em contacto direto com o tacho e, no topo, um pano e folhas de couve. É cozido durante cerca de seis horas, adicionando-se nova água à medida que ela verte da panela. É importante a água verter, para que saia uma espécie de baba, que, popularmente, as pessoas chamam de “maldade”, isto é, uma purificação feita na cozedura a fim de o inhame não “picar” ao ser ingerido, ou melhor, para libertar a sua toxicidade. Daí ser preciso ser purificado em várias águas. Quanto ao sal, é adicionado na última água e fervura. É então servido para o almoço da Sexta-Feira Santa. Imediatamente antes de ser consumido, em geral o inhame é descascado. Tem um sabor suave e uma textura semelhante à da batata.
Quanto ao conteúdo nutricional, o inhame é rico em carboidratos e fibra. Contém proteína, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, vitamina C, vitaminas do complexo B, entre outros.
O modelo de cultivo e de apanha do inhame nos ribeiros e penhascos está a desaparecer, porque a geração mais velha já não consegue cuidar do acesso aos locais e das condições de água para o crescimento do tubérculo.
Em Produtos Tradicionais Portugueses dá-se conta de alguns dados históricos: “Da espécie Colocasia antiquorum, a planta do inhame parece ter sido introduzida na Ilha da Madeira por volta de 1640. O inhame teve, outrora, largo consumo na ilha, sendo um dos alimentos comuns e utilizados diariamente, na época própria, pela população rural. Daí que fosse chamado o «maná desta terra» conforme inscrição de 1710 numa mesa estilizada com tampo de ardósia e incrustações coloridas, existente na sacristia da Igreja de São Pedro, no Funchal. No catálogo Cousas e Lousas das Cozinhas Madeirenses vem referido um relato de George Forster — companheiro de James Cook numa das suas expedições científicas — sobre a Madeira da segunda metade do século XVIII, no qual se pode ler: «... onde quer que exista uma superfície plana nos sítios mais altos, os indígenas fazem plantações de inhame... As suas folhas servem de alimento aos porcos e os camponeses utilizam as suas raízes para a sua própria alimentação».”
...
Agradecimento especial à Sra. Ivone Agrela e ao Sr. António José Neto, pela ilustração de todo o processo de confecção deste prato típico. Em breve, o vídeo será disponibilizado.
Ver o vídeo nos vídeos da Abelhinha ou directamente no Youtube
Bucho do Santo da Serra
O Bucho do Santo da Serra é um ensacado ou enchido feito a partir do bucho de porco. Recheado com uma mistura de carne de porco nobre, arroz, salsa, malaguetas do quintal e temperado com mistura de especiarias. Os orifícios por onde é recheado são depois cosidos manualmente com uma linha apropriada.
Na tradição do Santo da Serra, o bucho é bem lavado e raspado, enquanto a carne da febra do porco, sem gordura, é cortada em pequenos pedaços, para o recheio. O arroz leva uma breve cozedura de cinco minutos e junta-se à carne já condimentada. Este preparo é utilizado para rechear o bucho, tendo em conta a sua capacidade-tamanho. De seguida, é fechado com o processo já descrito.
O Bucho do Santo da Serra é cozido, preferencialmente a lenha, numa panela com água a ferver. É um processo que toma cerca de duas horas e meia. Durante esse tempo, a cozedura deve ser cuidada e é preciso ir picando o bucho com um garfo, para que não se corra o risco de abrir e, por conseguinte, se desmanche e verta o conteúdo, o que inutilizaria o prato. Depois de cozido, o bucho adquire uma cor dourada.
Para ser consumido, um ou dois dias depois, o Bucho do Santo da Serra é partido às fatias. A capa exterior, o bucho do porco, fica crocante e pode e deve, também, ser consumido, junto com o recheio.
O Bucho recheado — a palavra bucho designa o estômago de forma geral — é um prato comum nas Beiras, em território continental, e cada um tem a sua personalidade e o seu tempero, uns são designados de Maranhos outros Brulhões, outros apenas Morcelas de arroz.
...
Agradecimento especial à Sra. Virgínia Sousa, pela ilustração de todo o processo de confecção deste prato típico.
Ver o vídeo nos vídeos da Abelhinha ou directamente no Youtube